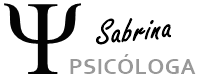Imagine uma reunião de trabalho em que alguém fala com a maior segurança do mundo, cheio de convicção, mas, no fundo, está dizendo bobagem. Ou, ao contrário, aquela pessoa superpreparada, cheia de experiência, que treme por dentro achando que, a qualquer momento, vão perceber que ela “não sabe de nada”. Esses dois extremos têm nome: efeito Dunning-Kruger e síndrome do impostor.
O primeiro surgiu em 1999, quando os psicólogos David Dunning e Justin Kruger aplicaram testes de lógica, gramática e até de humor em voluntários. O resultado foi quase uma piada pronta: os que foram pior nas provas eram justamente os que mais acreditavam ter se saído bem. Para reconhecer a própria falta de habilidade, perceberam os pesquisadores, é preciso ter um mínimo de conhecimento — e é isso que falta a quem erra feio, mas não percebe. Daí a clássica figura do “especialista de churrasco”, que opina sobre tudo com ar professoral, sem nunca ter estudado a fundo.
A síndrome do impostor, por outro lado, é quase um espelho invertido. O termo nasceu em 1978, criado pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes, que estudavam mulheres altamente bem-sucedidas. Mesmo com diplomas e conquistas, elas se sentiam uma fraude, como se o sucesso fosse apenas sorte ou esforço acima da média. Essa sensação não ficou restrita ao universo feminino: hoje, sabemos que homens e mulheres, em diferentes áreas, carregam esse peso silencioso. É o clássico “não sou bom o bastante” que paira mesmo quando as evidências dizem o contrário.
No fim das contas, tanto o Dunning-Kruger quanto a síndrome do impostor falam da mesma dificuldade: enxergar a si mesmo com clareza. Uns acreditam demais, outros acreditam de menos. Reconhecer esse jogo de espelhos pode ser um alívio. Nos ajuda a rir um pouco da nossa própria mente, ser mais humildes quando sabemos pouco e, sobretudo, parar de desmerecer